Ódio via WhatsApp: aos 70 anos, o que 1984, de Orwell, diz sobre nós?
"As velhas civilizações diziam basear-se no amor ou na justiça. A nossa se baseia no ódio".
Neste dia 8 de junho o lançamento de "1984", do britânico George Orwell, completa 70 anos. Seria melhor se a obra tivesse caído no ostracismo ou se transformado num retrato esteticamente questionável de uma época – gente como Harold Bloom e Ben Pimlott fizeram grandes ressalvas aos personagens planos e às construções simples de Orwell –, mas não é o caso.
Se a distopia que serve de crítica aos governos totalitários nunca foi relegada ao segundo plano da literatura nessas sete décadas, nos últimos anos ela voltou a ter um papel de grande destaque. A eleição de Donald Trump, em 2016, fez com que as vendas do livro disparassem nos Estados Unidos, alavancando os números também em outros países. No Brasil, "1984" virou uma figura frequente nas listas dos mais vendidos, um bem-vindo intruso entre Luccas Netos e Padres Reginaldos da vida. Pelo mundo, enquanto o futuro da democracia é questionado, o clássico serve base para discutirmos para onde a sociedade se arrasta.
No romance, Orwell vislumbra uma nação onde tudo é controlado pelo Estado. Elementos como o líder bigodudo e a cartilha com lombada vermelha indicam que a história se baseia sobretudo na ditadura stalinista. Como sabemos, no entanto, governos totalitários são sempre muito parecidos, independente do viés ideológico; a carapuça orwelliana cai bem na cabeça de qualquer ditador – ou de qualquer esboço de ditador. Em todo caso, um dos traços que mais admiro na biografia e na bibliografia de Orwell é como ele se assumia de esquerda (um social democrata, "um membro da 'esquerda dissidente', distinta da 'esquerda oficial'", como lembra Thomas Pynchon num dos posfácios da edição de "1984" que tenho em mãos, publicada pela Companhia das Letras), mas não poupava a própria esquerda de suas críticas, numa clara tentativa de fortalecer os princípios do que se passa na sua própria trincheira. Escrevi sobre isso na resenha de "O que é o Fascismo? E Outros Ensaios".
O aniversariante da vez foi o responsável por colocar palavras e expressões como "grande irmão", "novafala" e "duplipensamento" em nossas vidas. Relendo "1984" e pensando no que escrever, no entanto, me chamou a atenção principalmente o modo como diversos elementos do livro dialogam com o Brasil atual – sei que é uma abordagem um tanto previsível, mas é também necessária. Nesta semana, aqui mesmo no UOL, um trecho de uma entrevista com a historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz, que está lançando "Sobre o Autoritarismo Brasileiro", me pareceu crucial: "Quando fizemos o livro 'Brasil: uma Biografia' [com Heloisa Starling] dissemos que a democracia estava muito assegurada e a República não tanto. Agora fizemos um adendo dizendo que estávamos equivocadas", comentava. Se os sinais amarelos com relação ao nosso Estado democrático não param de soar, precisamos mesmo usar todas as ferramentas possíveis para tentar entender e questionar nossos rumos. "1984" está aí e não foi por acaso que escolhi a citação acima para abrir este artigo: "As velhas civilizações diziam basear-se no amor ou na justiça. A nossa se baseia no ódio".
Se o livro não é um manual para entender o que estamos vivendo – não existem manuais para a vida –, ele, pelo menos, tem muito a nos jogar na cara. Desse muito, o primeiro elemento que merece destaque é como o ódio presente na história se assemelha ao ódio que está entranhado em nosso cotidiano. Em Oceânia, onde a história se passa, os personagens se preparam para a Semana do Ódio e todos os dias precisam reservar dois minutos de suas vidas para o momento de ódio, no qual são expostos durante 120 segundos a um inimigo em comum.
"Depois de trinta segundos, já não era preciso fingir. Um êxtase horrendo de medo e sentimento de vingança, um desejo de matar, de torturar, de afundar rostos com uma marreta, parecia circular pela plateia inteira como uma corrente elétrica, transformando as pessoas, mesmo contra sua vontade, em malucos a berrar, rostos deformados pela fúria", lemos. Ali não basta sentir o ódio, mas é preciso externar o ódio, demonstrar para todos o quanto o inimigo é realmente repulsivo. Consigo vislumbrar perfeitamente esses personagens de Orwell com o celular em mãos, recebendo barbaridades no WhatsApp, espumando de raiva e mandando áudios virulentos ou mensagens escritas em caixa alta e cheias de emojis e erros de português. Porque aqui também não nos basta sentir o ódio: é necessário nutri-lo, expô-lo e deixar claro para todos os pares o quanto algum ser normalmente político pode despertar o pior que há em nós. Só que aqui são muitos os minutos, talvez horas, de ódio por dia. Tem ódio para tudo que é gosto, ainda que pontuado por uma corrente ou outra de oração.
Seguindo o cruzamento do que os personagens de "1984" pensam com o que vira e mexe vemos principalmente no WhatsApp, na obra de Orwell crianças enchem o saco dos pais para que possam acompanhar o enforcamento em praça pública daqueles que cometeram algum tipo de crime – como contrariar o governo. Num fetiche pela barbárie que nos é cada vez mais familiar (quem nunca recebeu ou não conhece alguém que tenha recebido em seu celular imagens de um corpo destroçado num acidente ou algo do tipo?), aparece o crítico de carnificina: "Foi um belo enforcamento […]. Acho que estraga tudo essa história de amarrar os pés deles. Gosto de ver quando eles esperneiam. E principalmente, no fim, a língua espichada para fora, azul — um azul bem vivo. É meu detalhe predileto". Atual e com cores verde e amarela essa morbidez, essa perda da dignidade humana, essa fetichização da crueldade.
Na distopia de Orwell também há uma proposital deterioração da linguagem promovida pelo governo. Aos poucos as palavras vão sendo destruídas, buscando reduzir a "língua ao osso", visando tornar o "pensamento-crime literalmente impossível, já que não haverá palavras para expressá-lo". Winston, o protagonista, vive numa realidade onde dizer que algo é "bonito" causa surpresa, afinal, pouca gente lembra que o adjetivo existe ou se sente à vontade para pronunciá-lo. Por lá, o projeto é que a arte, a literatura e a ciência também sejam extintos, acabando com os limites entre o belo e o feio, com a curiosidade, com os deleites, com os prazeres…
Lendo as notícias recentes, com cortes de verbas para a educação, cortes de bolsas para pesquisadores, perseguição e sufocamento das artes e desprezo pelos grandes feitos de nossos artistas, nos vemos um pouco em "1984". Sobre a linguagem em si, a brutalidade cotidiana de quem se comunica por meros balbucios, de quem considera esnobe aqueles que utilizam um vocabulário um pouco mais rico – conheço até quem considere esnobismo a utilização da pontuação, pode acreditar – e a truculência do tiozão que não entende qualquer discurso minimamente complexo, com nuances, também nos aproximam da distopia. Não custa lembrar que, baseando-se exatamente no clássico de Orwell, Umberto Eco apontou essa deterioração da linguagem como um traço do que chamou de "fascismo eterno".
Coloquemos também em nosso balaio orwelliano a revisão da história. Lá, como cá, há a tentativa de apagar o passado para manipular o presente e, consequentemente, o futuro. "Quem controla o passado controla o futuro; quem controla o presente controla o passado" é uma das frases mais conhecidas do livro situado numa ditadura onde "a história não passava de um palimpsesto, raspado e reescrito tantas vezes quantas fosse necessário". Em Oceânia a manipulação da verdade é constante. Sem compromisso com a verdade factual, o governo se apoia, dissemina e manipula situações para que as "fake news" se sustentem. Os líderes de lá com certeza negariam fatos históricos que os desabonam, buscariam mudar a visão com relação a certos horrores pregressos e desprezariam estudos e pesquisas contrários às suas torpes convicções.
Há mais, muito mais: a polícia das ideias, o Ministério da Paz, responsável pelo permanente estado de guerra, o Ministério do Amor, tido como o mais apavorante de todos, e o Ministério da Pujança, responsável pela economia num lugar que tem como máxima "liberdade é escravidão" – junto com "guerra é paz" e "ignorância é força". E o povo? "Na realidade pouco se sabia sobre os proletas. Não era necessário saber grande coisa. Desde que continuassem trabalhando e procriando, suas outras atividades careciam de importância. Abandonados a si mesmos, tal como o gado solto nos pampas argentinos, haviam regredido ao estilo de vida que lhes parecia natural — uma espécie de modelo ancestral. Nasciam, cresciam pelas sarjetas, começavam a trabalhar aos doze anos, aos trinta chegavam à meia-idade, em geral morriam aos sessenta". Tudo familiar. Deprimente e familiar.
Você pode me acompanhar também pelo Twitter, pelo Facebook e pelo Instagram.


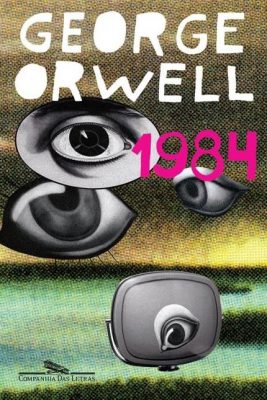




ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.