Amor? Livro de A Forma da Água é muito mais sobre preconceito e empatia
Depois que o filme levou o Oscar, muitos já sabem qual é o cerne de "A Forma da Água": uma criatura, chamada pelos locais de deus Brânquia, é capturada na Amazônia e levada para um laboratório nos Estados Unidos, onde será submetida a uma série de testes que podem ser decisivos durante a Guerra Fria. O ser aquático, no entanto, possui certos traços humanos: sente dor, emoções, anda com a postura ereta e apresenta alguma facilidade em se comunicar, o que provoca discussões entre cientistas sobre seguir ou não com experimentos e faz com que Elisa, uma faxineira, apaixone-se pelo monstrengo.
É isso que também está no centro da versão literária da história, escrita por Guillermo Del Toro em parceria com Daniel Kraus e publicada no Brasil pela Intrínseca. No entanto, diferente do que muitos andam dizendo sobre o longa, que se trataria de uma história de amor – não fui ao cinema para saber se isso procede um ou não -, o livro, apesar de também falar de amor, é muito mais uma narrativa sobre empatia. Mas, antes de focar nisso, tratarei de dois outros temas bastante presentes nas páginas de "A Forma da Água".
Racismo e o machismo
É representativa na obra um momento em que duas cenas se intercalam: enquanto Elisa baila terna e secretamente com a criatura em uma das salas do laboratório onde trabalha, em algum quarto longe dali a mulher de um dos personagens é violentada por seu marido na cama. Quando ela tenta falar algo durante o sexo, ele enfia a mão em sua boca a ponto dela começar a sentir o gosto do sangue. Ao mesmo tempo que é agredida, pensa que talvez possa saber mais sobre aquilo em alguma revista feminina e até cogita aprender a gostar de "homens parecidos com o Tarzan". O machismo também é retratado em outros momentos: moças precisam, por exemplo, acostumar-se a ter suas bundas beliscadas pelos machões com quem dividem o ambiente de trabalho.
O racismo é outra mazela muito presente em "A Forma da Água". Quem mais sofre com ele é a negra Zelda, colega de faxina de Elisa. "Acho que os negros têm lugar. Acho mesmo. No trabalho, nas escolas. Precisam ter todos os direitos que os brancos têm. Mas vocês precisam refinar seu vocabulário. Você ouviu a si mesma? Não para de repetir as mesmas palavras. Eu lutei ao lado de um negro na Coreia que acabou em uma corte marcial por algo que não fez, porque quando o juiz quis ouvir sua história, ele não conseguia dizer nada além de sim, senhor e não, senhor. É por isso que temos tantas pessoas do seu tipo na cadeia. Não é nada pessoal", ouve Zelda de um superior que adota o típico discurso do "não tenho preconceito, mas…".
ESTUPROS, BONDAGE, DEUS E FACADAS: A VIDA DA MAIOR PIN-UP DA HISTÓRIA
Em outro momento, o absurdo dito a ela é ainda maior:
– Para encerrar. Escutem, só escutem. Não é preciso ser gênio para saber que estamos lidando com um espécime vivo aqui. Isso não importa. Nem um pouco. Tudo o que vocês precisam saber é o seguinte: aquela coisa na F-1? Ela pode andar em duas pernas, mas somos nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós. Não é verdade, Dalila [o segundo nome de Zelda]?
– Eu não sei qual é a aparência de Deus, senhor.
– Deus parece humano, Dalila. Ele se parece comigo, com você. Embora, se formos honestos, ele provavelmente se pareça um pouco mais comigo". Na visão do mandachuva, apenas o homem branco é a verdadeira imagem e semelhança de Deus.
Empatia
Logo que comecei a ler "A Forma da Água", dois outros livros me vieram à cabeça. Por se tratar de experimentos em animais sensíveis em laboratórios, a lembrança da tristíssima HQ "Laika" (Barricada), de Nick Abadzis, foi inevitável – no livro de Kraus e Del Toro, a cachorrinha soviética inclusive é citada pelos próprios russos como exemplo de experiência feita em alguém que podia claramente sofrer.
O outro é "Deuses Americanos" (Intrínseca), de Neil Gaiman, romance no qual o autor imagina como deuses que não são mais alimentados por seus fiéis se viram por aí. Sinto um pouco disso em "A História da Água": a partir do momento em que o deus Brânquia não significa absolutamente nada de místico para os norte-americanos – apenas para membros de tribos amazônicas -, não há problema algum em capturá-lo, prendê-lo e mantê-lo num cativeiro. É muito simbólico termos um deus preso num laboratório para que sirva pesquisadores que buscam aprimorar a segurança nacional; em troca dessa segurança – a desculpa perfeita para tudo -, vale até subjugar uma divindade.
VIOLÊNCIA E ORAL BANALIZADO: O RETRATO DA VIDA SEXUAL DAS GAROTAS NOS EUA
É aí que entramos na questão da empatia, algo que falta até mesmo entre os tipos que trabalham no laboratório. "Não deveria ser um ambiente com tanta rivalidade. Zelda é negra e gorda. Yolanda é mexicana e simplória. Antonio é um dominicano estrábico. Duane é mestiço e não tem dentes. Lucille é albina. Elisa é muda. Para Fleming, todos eles são iguais: incapazes para outro trabalho, portanto, fáceis de confiar. É humilhante para Elisa pensar que talvez ele tenha razão. Ela desejava ter voz para poder subir no banco do vestiário e fazer um discurso inflamado e inspirador sobre como deveriam cuidar uns dos outros. Mas a Occam não funciona assim. Pelo que ela percebeu até agora, não é assim que os Estados Unidos funciona também", registra o narrador.
Elisa é, provavelmente, a personagem que mais sofre com tudo isso. Trabalhando há 14 anos no lugar, nunca viu nenhum engenheiro, pesquisador ou cientista buscar aprender a linguagem dos sinais para tentar se comunicar com ela – estes tratam os subalternos como seres inferiores, quase como bichos. É porque ninguém nunca lhe deu a devida atenção que a personagem se aproxima da criatura aquática:
"Há uma linha vermelha pintada no chão a trinta centímetros da piscina. Não é seguro avançar mais. Então por que ela está considerando fazer isso? Por que não consegue tirar aquilo da cabeça, aquela coisa que o sr. Strickland arrastou até ali, que os PMs guardam com suas armas, que o dr. Hoffstetler se dedica a estudar? Ela sabe que já foi aquela coisa na água antes. Sempre foi a pessoa sem voz de quem os homens tiraram proveito sem jamais perguntar o que ela queria. Ela pode ser melhor que isso. Pode equilibrar as coisas. Pode fazer o que nenhum homem tentou fazer com ela: se comunicar".
Repito: "Pode equilibrar as coisas. Pode fazer o que nenhum homem tentou fazer com ela: se comunicar". Ou seja, Elisa foi encontrar o mínimo de empatia não em outro ser humano, mas num monstrengo sensível. A questão da empatia também está no cerne da discussão do que fazer com o deus Brânquia: enquanto alguns alegam que ele não deve servir às pesquisas por conta das diversas semelhanças com os próprios homens, outros, mais pragmáticos, não veem isso como um empecilho, como mostra a fala de um dos capangas do governo:
LAIKA: LANÇADA AO ESPAÇO PARA MORRER E SERVIR DE PROPAGANDA AOS SOVIÉTICOS
"'Essas são as ordens do general Hoyt'. Ele ergue o documento no alto da pilha, um desenho superficial do recurso dividido por uma linha pontilhada em cortes de carne. – 'E acabei de começar a executá-las. Isso significa que, daqui a duas horas e quarenta e cinco minutos, você e eu vamos agir como bons americanos e estriparemos aquele peixe. Sei como você se sente. Porém, pense nisso dessa maneira: os japoneses, os alemães, os chineses. Eles também são criaturas inteligentes. No entanto, não tivemos problemas algum em matá-los'".
É por isso que digo que "A Forma da Água", livro que ocasionalmente falha na transição do foco entre os personagens e tem algumas cenas de ação excessivamente rocambolescas pro meu gosto, trata muito mais de empatia do que de amor. Sem empatia não haveria a discussão do que fazer com o deus Brânquia – e aqui há a abertura para que também interpretemos a obra como uma crítica ao especismo. Com empatia, problemas como o machismo e o racismo exposto sequer existiriam. Sem empatia, o contato entre Elisa e o monstrengo aquático jamais se transformariam, finalmente, num romance.
Gostou? Você pode me acompanhar também pelo Twitter e pelo Facebook.





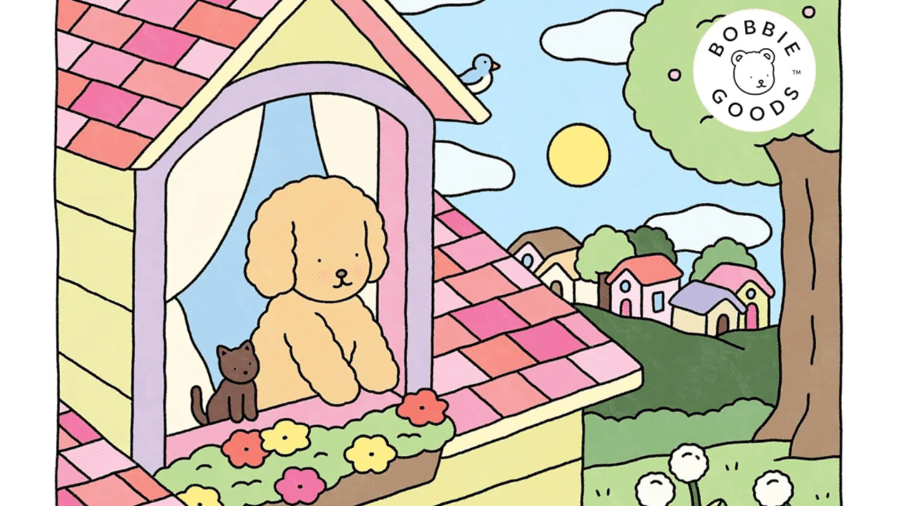


ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.