Neymar? Messi? C. Ronaldo? Não, a certeza de grandes surpresas é Suárez
Todos devem se lembrar: Luís Suárez protagonizou uma das cenas mais lamentáveis da última Copa. No jogo entre Uruguai e Itália, em Natal, ainda pela fase de grupos, em um rompante de aparente loucura, avançou contra Chiellini, zagueiro adversário, e mordeu o seu ombro. Revoltado, Chiellini mostrou as marcas dos dentes de Suárez em seu corpo para o árbitro. Apesar do atacante não ter sido expulso, após o jogo a Fifa julgou o uruguaio e lhe deu um gancho de nove partidas, deixando-o de fora da competição. Aquela não era a primeira vez que Suárez fazia algo do tipo. Ele já havia mordido outros jogadores enquanto jogava na Holanda e na Inglaterra, para onde foi em 2011, antes de chegar ao Barcelona.
De infância complicada, marcada pelo sumiço do pai, abuso de álcool e uma paixão adolescente que o salvaria em péssimos momentos e viraria casamento na vida adulta, há quem diga que morder é uma forma do centroavante lidar com a pressão. Fato é que se Suárez protagonizou uma das cenas mais marcantes da Copa disputada no Brasil, na anterior, em 2010, na África do Sul, ele já havia surpreendido o mundo. Vale reviver:
Último lance da prorrogação. Depois do bate-rebate na área, a Jabulani sobra para Adiyiah, atacante de Gana. A cabeçada passa fácil por um Muslera perdido. Fucile tenta cortar com os braços a bola que fatalmente atravessará a linha do gol e levará uma seleção africana pela primeira vez à semifinal de uma Copa do Mundo. Fucile, bom lateral direito mas péssimo goleiro, falha. Suárez tem a mesma ideia. Suárez, porém, é infalível. Com os pés sobre a linha da própria meta, dá um pequeno pulo e mete as duas mãos na bola, que rebate em Muslera e finalmente se amança no peito agora seguro do estabanado goleiro. De nada vale o gesto. O pênalti já está marcado. Suárez, expulso, deixa chorando o campo do Soccer City, o estádio de Joanesburgo.
Todos também conhecem o final dessa história: Asamoah Gyan, o craque da camisa 3, chuta a bola no travessão e a prorrogação imediatamente acaba. Na disputa por pênaltis, 4X2 Uruguai, com Loco Abreu executando a última cobrança com a humilhante cavadinha, sua marca registrada. Passando a régua: Suárez dispensou um bom mocismo inócuo e, evitando o gol com uma jogada de vôlei, um bloqueio de técnica duvidosa, transformou-se num tremendo anti-herói. Da mão na bola em diante, o desenrolar dos fatos colocou definitivamente aquele momento num lugar privilegiado da história do futebol.
Poucos imaginavam que a Celeste – que terminaria com um honroso e festejado quarto lugar – poderia chegar tão longe. Bi campeã olímpica em 1924 e 1928 (quando as Olimpíadas eram o próprio Mundial), país-sede e vencedor da primeira Copa, em 1930, e responsável pelo Maracanazo de 1950, quando conquistou outro bi, a bela história do Uruguai no torneio parecia ser apenas parte do passado. Das quatro Copas anteriores àquela na África, tinha se classificado apenas para a de 2002, dividida entre Japão e Coreia do Sul, onde foi eliminado logo na primeira fase.
Para mim, ver aquela campanha de 2010 foi ver renascer um gigante que já estava morto, de quem apenas ouvia falar. Até então, o Uruguai no futebol me soava como algo nostálgico, não como uma seleção que pudesse chegar numa Copa para disputá-la de igual para igual contra qualquer outra equipe. Mesmo não tendo visto jogar nenhum dos grandes times uruguaios – fora esse que se iniciou em 2010 e que, de certa forma, continua até hoje -, a camisa Celeste sempre me despertou uma estranha saudade dos tempos em que o futebol era outro, como costuma acontecer com quem guarda boas memórias de times como o Juventus, o Moleque Travesso da Rua Javari, e o América, o Diabo da Tijuca, o Mequinha.
Memória, Juventus, América… Esses elementos, diga-se, servem de base para os "Os Beneditinos", romance de José Trajano, referência no jornalismo esportivo, lançado no começo do ano pela Alfaguara. Trajano é um apaixonado e saudoso torcedor do Mequinha e na história apresenta um personagem que mora em São Paulo e, ao se mudar da Vila Madalena para a Mooca, encontra justamente na Rua Javari uma espécie de elo com o seu passado no Rio de Janeiro. Junte isso à história relacionada aos tempos de escola e temos uma nostálgica peça de ficção sobre amizade, o futebol de outrora e o Rio de Janeiro dos anos 1950 e 1960, ainda assombrado pelo Maracanazo. É um livro delicioso, que agradará principalmente os partidários do "ódio eterno ao futebol moderno".
Enquanto tenta reunir seus antigos amigos de escola para que disputem um campeonato de "walking football" ("modalidade idealizada para pessoas idosas — os jogadores não correm, apenas andam com a bola") na Inglaterra, o narrador repassa sua relação com o futebol (o futebol de botão, o futebol jogado, o futebol enquanto torcedor…). "Lembramos com olhos cheios d'água que acompanhamos a Copa do Mundo de 1958 pelos radinhos de pilha Spica, aparelho transistor japonês do tamanho de um tijolo que podia ser levado para qualquer lugar e que vinha envolvido em um estojo de couro. O máximo na época", conta, para depois falar que naqueles tempos ninguém via uma imagem sequer da partida. "Não havia transmissão pela televisão. As pessoas ficavam imaginando as jogadas, os gols, a emoção dos jogadores e a volta olímpica apenas pelo que ouviam pelo rádio. Um descrevia para o outro como achava que teria acontecido".
Em outro trecho emblemático, revive o último título do Campeonato Carioca conquistado pelo América, em 1960, num maracanã com quase 100 mil pagantes. "Fazia vinte e cinco anos que o América não via a cor de um título. A trágica derrota na melhor de três em 1956 contra o Flamengo não saía da cabeça. Agora, contra o Fluminense, o time tinha um técnico, Jorge Vieira, de apenas vinte e cinco anos, e um bando de jogadores jovens e desconhecidos, com exceção de Ari, Pompeia, João Carlos e Calazans. Além do mais, havia o tabu: nove partidas seguidas sem vencer o tricolor".
No meu imaginário, era a esse saudoso universo que Trajano desenha em seu livro que o Uruguai exclusivamente pertencia. Isso até a Copa de 2010, isso até Suárez roubar o protagonismo de forma surpreendente. Como foi surpreendente – lamentável, mas surpreendente -, a mordida em Chiellini na Copa passada. Uma coisa é inegável: o uruguaio, mesmo que por meios torpes, já fez mais história em mundiais do que Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Quem sabe não é essa a hora de Suárez surpreender de novo, mas desta vez na bola. Futebol ele tem – e muito.
Gostou? Você pode me acompanhar também pelo Twitter e pelo Facebook.




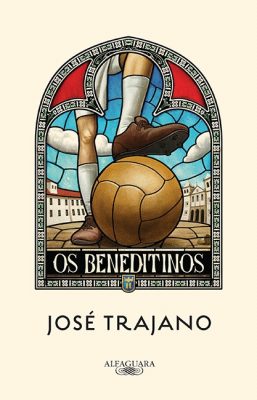



ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.